16 Comentários
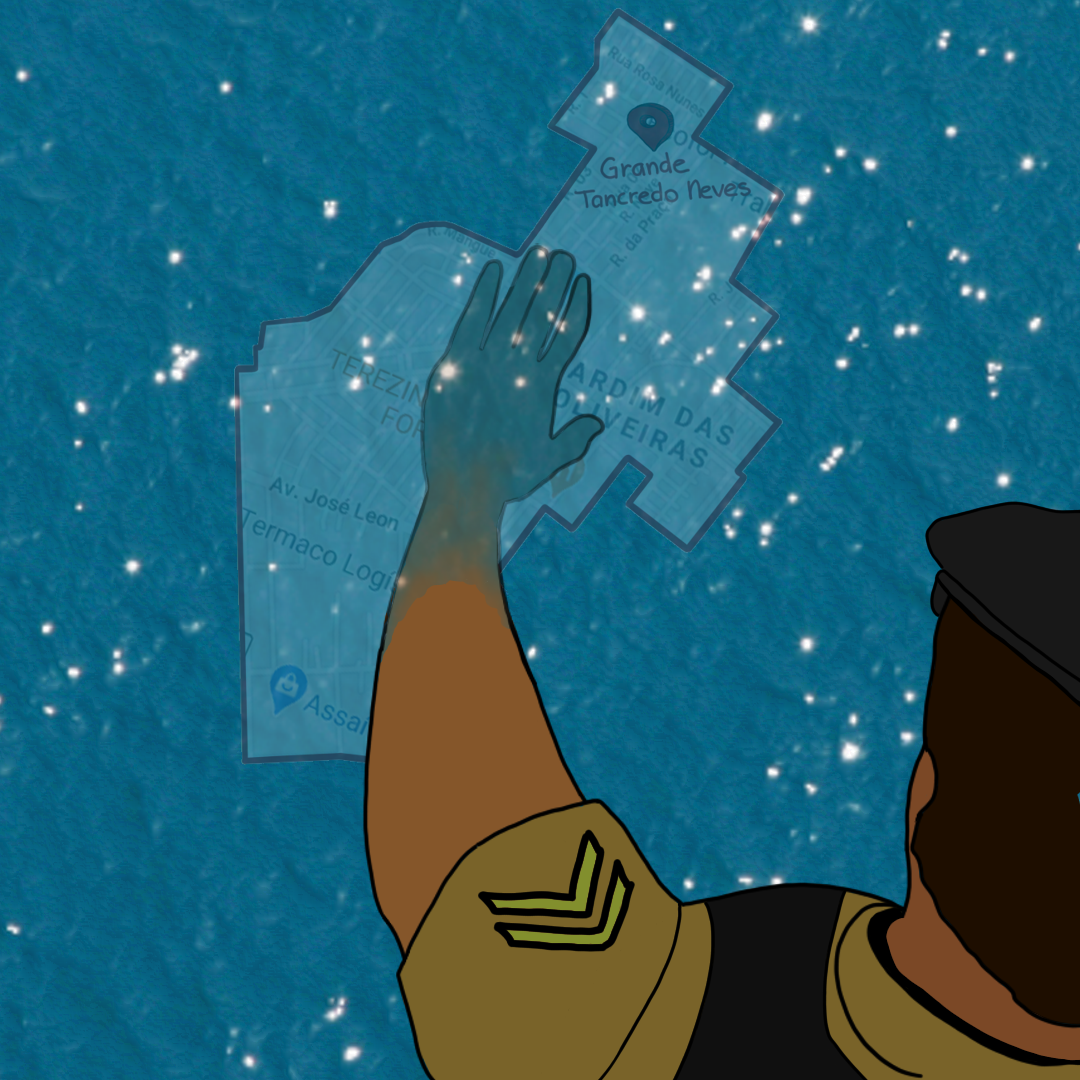
O descrédito das pessoas pobres pelos meios judiciais é justificado principalmente pela violenta (física e simbolicamente) relação das populações faveladas com a instituição do aparelho judiciário com a qual convivem localmente: a polícia. “A polícia ensinou que a justiça é sem valor”, canta o grupo paulista de rap RZO, em Pirituba – parte II.
De acordo com Walter Benjamin, em Crítica da violência – crítica do poder, a polícia é a única instituição do Estado moderno que carrega em si os mesmos dois tipos de violência intrínsecos ao direito: a violência que o funda e a que o conserva estão presentes no mecanismo policial, pois “o militarismo é a compulsão para o uso generalizado da violência como um meio para os fins do Estado”. Penso que é justamente neste sentido e em diálogo com a tese benjaminiana que Pierre Bourdieu, em Meditações pascalianas, afirma que “pelo mero fato de existir, a polícia traz à lembrança a violência extralegal sobre a qual repousa a ordem legal”.
Pergunto a dona Celina, 57 anos, moradora do GTN, se ela confia na polícia: “Rapaz, assim, com um pezim atrás, né? Lógico! [risos]”. Em conversa com outro morador, José Antônio, 28 anos, desempregado, questiono-o se ele tem medo da polícia: “Num tenho entre aspas, mas… como é que se diz, hein? Mas num confio, né”.
Em geral, o discurso dos “trabalhadores” do Grande Tancredo Neves (GTN) em relação à polícia se situa numa zona de indiscernibilidade entre a desconfiança, o medo e o desinvestimento subjetivo enquanto instância representativa para a promoção de direitos e de cidadania.
Mesmo pessoas que nunca se envolveram diretamente com atividades criminais nutrem esses sentimentos em relação à instituição porque muitas vezes um parente, filho, vizinha, cônjuge etc. já foi vítima de abuso policial.
Em sua pesquisa etnográfica no Bom Jardim, bairro popular de Fortaleza, Luiz Fábio Paiva verificou questões afins. Segundo ele, os B.O(s). – boletins de ocorrência –, que são registrados nas delegacias para prestar queixas, denúncias, ou informar a perda, roubo ou o extravio de documentos, eram considerados pela pessoas moradoras do bairro como “boletins de otário”, tamanha a descrença generalizada da população na mediação policial para a resolução de conflitos ou para a solução de problemas relativos a direitos civis.
Penso que mediante processos de subjetivação-objetivação operados na prática cotidiana da vida local, a classe trabalhadora infere, a partir de uma avaliação configuracional histórica, que a polícia está ali principalmente para controlá-la e, sob uma sociodinâmica da estigmatização, forjá-la como “classe perigosa”; além de que percebe que há um enorme desigualdade de tratamento entre ela, a classe trabalhadora, e os segmentos dominantes. Essa sociologia espontânea das populações periféricas vai ao encontro de estudos teóricos que demonstraram o papel central da polícia não como de repressão ao crime, mas de controle social das camadas pobres, como a pesquisa de Thomas Holloway sobre o Rio de Janeiro do final do século XIX intitulada Policing Rio de Janeiro: Repression and Resistance in a Nineteenth-Century City.
No entanto, é importante salientar também que não foram poucas as vezes em que os “trabalhadores” e “trabalhadoras” do GTN deixaram escapar nas conversas um explícito apoio à truculência dos aparelhos militares contra os “bandidos”. Considero que nesse processo de adequação às formas de brutalidade e fomento à violência policial contra “criminosos” decanta uma assimilação da semiótica dominante, a linguagem que os meios de produção simbólica da realidade (escola, meios de comunicação de massa, igreja, agências do estatismo etc.) os ensinaram desde sempre a cultuar e reproduzir.
Em sua pesquisa com as gangues juvenis de Fortaleza no final dos anos de 1990, Glória Diógenes (1998) demonstrou que as práticas policiais violentas empreendidas contra os bandos de jovens eram consentidas pela população em geral como úteis e eficazes, e justificadas pelo estatismo como método estratégico na gestão do sistema de segurança pública. Para a autora, o que se percebe nestes jogos sociais “é a produção semiológica de um discurso ‘racional’ acerca da necessidade do uso da violência”.
Muito se fala que esse padrão policial truculento é ainda um resquício bem vivo da ditadura civil-militar, mais de trinta anos após seu fim. Entretanto, é preciso voltar mais atrás.
Em toda a história imperial e republicana, o Estado brasileiro encampou maneiras de legalizar violações de direitos, e de desenvolver métodos extralegais impassíveis de punição. Portanto, cabe destacar que a maneira de agir dos órgãos policiais não pode ser vista de modo separado do funcionamento generalizado do Estado.
A polícia aparece nesse contexto como a agência estatal que notoriamente incorpora e reproduz essa violência institucional, não como exceção, mas como regra, e inclusive sob a benevolência e a proteção das leis e do seu arraigado corporativismo.
O sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, no texto Violência e cultura, adverte que a investigação contra policiais, conduzida pelas corregedorias militares, funciona muitas vezes como um “ritual de dissimulação” que não tem possibilidade de estabelecer limites a uma prática que se confunde com o próprio funcionamento estatal: “Seria uma ilusão esperar que o próprio Estado […] tenha condições de interromper a prática da violência ilegítima que colabora eficazmente para a sua sustentação”. Noutros casos, diante de um erro grave de conduta policial que gera uma comoção social, as “autoridades” tentam conter a revolta popular com frases feitas copiadas de um manual de redação policial.
Símbolo-mor do “ritual de dissimulação” da investigação policial são os autos de resistência, um dispositivo herdado da ditadura civil-militar inexistente do ponto de vista jurídico, utilizado quando um policial alega que houve resistência seguida de morte; em outras palavras, quando um policial, no curso de sua ação, assassina um civil. Segundo Orlando Zaccone, delegado de polícia e pesquisador no campo da sociologia da violência, os inquéritos de autos de resistência arquivados ou não investigados no Rio de Janeiro a partir de 2005 somam 99,2% dos casos.
…
Obs: próxima semana, continuamos abordando as relações entre polícia e comunidades periféricas.
///
A série “Antropologia do crime no Ceará” é publicada semanalmente no #siteberro. Veja abaixo os textos anteriores.
i. A dimensão ética na pesquisa de campo
ii. Pesquisando o “mundo do crime” e inserindo-se no “campo”
iii. Grande Tancredo Neves: formação dos territórios
iv. As relações sociais das camadas populares
v. A feira como arte da oralidade popular
vii. Estabelecidos e outsiders: a favela dentro da favela
viii. “Trabalhadores” e “bandidos”: entre separações e aproximações
ix. Sistema de relações sociais do crime: uma rede de ações criminais hierárquicas

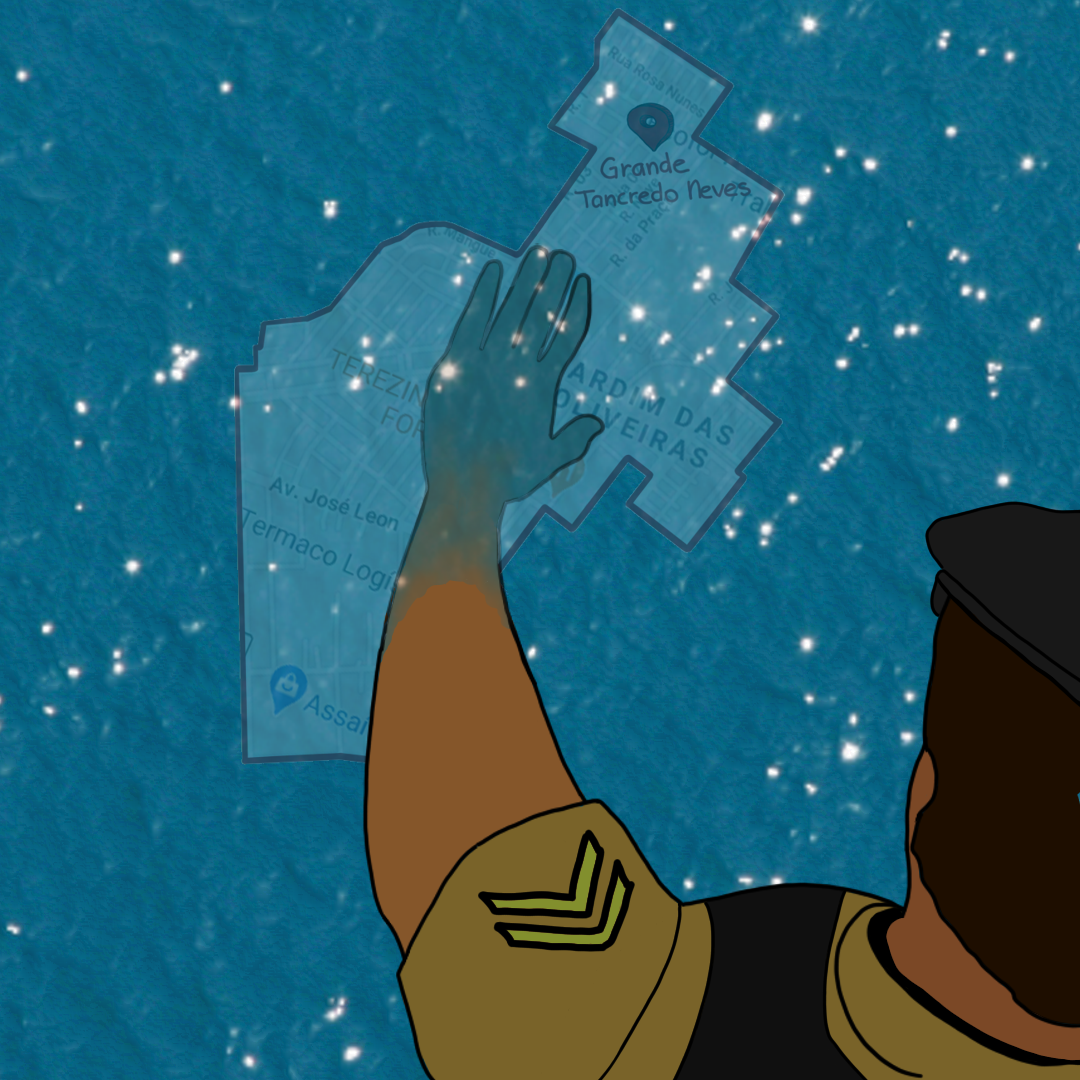
16 Replies to ““Não confio na polícia”: A relação de descrença entre a classe trabalhadora e os policiais”