4 Comentários
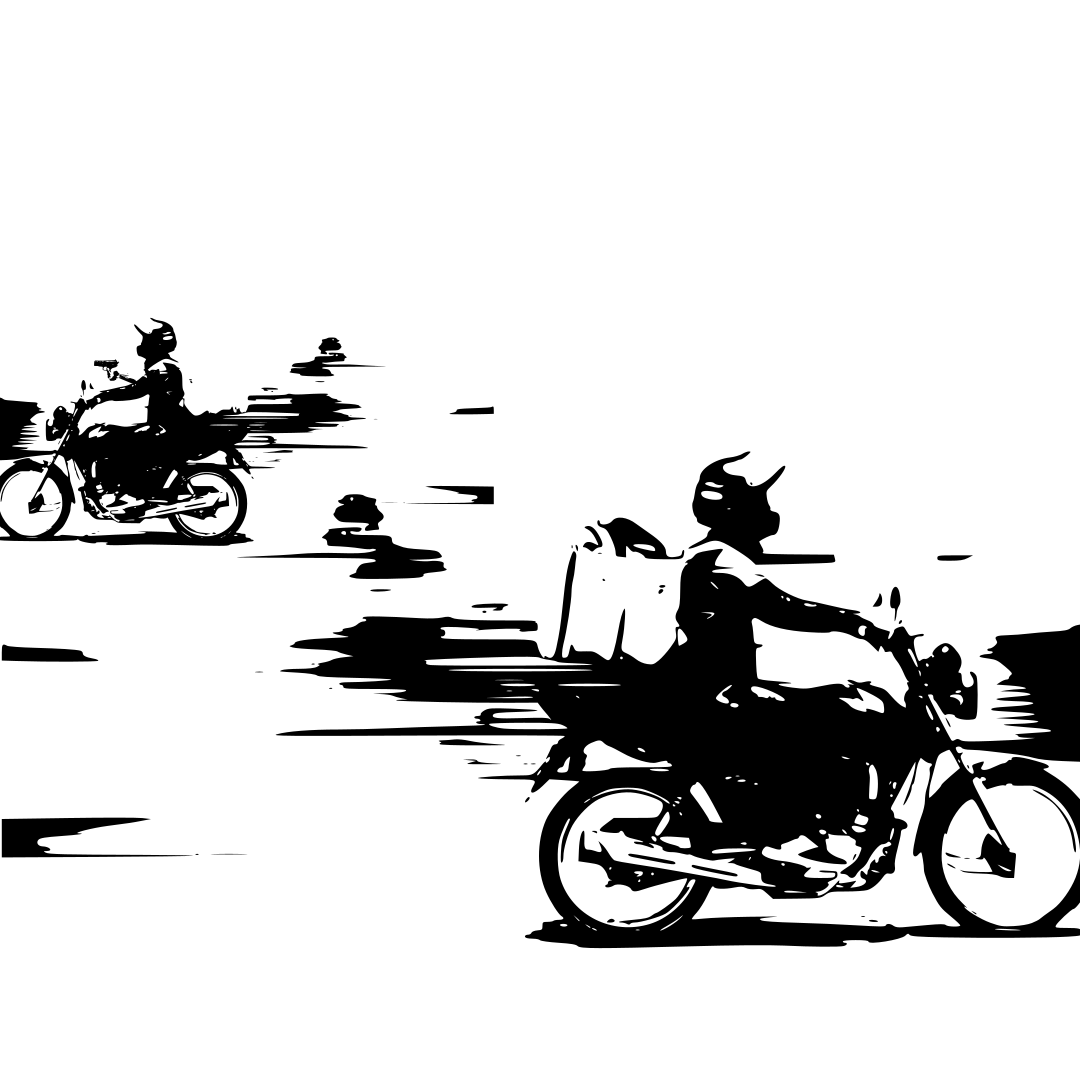
Na criminalidade pobre, o tráfico varejista de drogas é a principal atividade que movimenta as relações criminais. Diferentemente da modalidade do assalto, o tráfico é uma atividade sedentária, como sublinhou Carolina Grillo, em sua tese. Dos interlocutores com quem conversei, a grande maioria era pequeno varejista no comércio ilegal de drogas, os chamados “aviões”; ganhavam, em média, de mil e quinhentos a três mil reais líquidos, já descontados os dividendos para seus fornecedores.
Camaleão fez questão de pontuar: “Eu sou avião. Bote aí que eu sou avião [diz ele, apontando para meu diário de campo]. Sou traficante não. Traficante é aquele que nem pega na droga”. De fato, a alcunha “traficante”, se pensarmos a partir da perspectiva de Camaleão, não faz nenhum sentido ali. Em média, os pequenos varejistas transacionam de 50g a 100g de cocaína e/ou crack por quinzena. Abastecem-se, geralmente, com o “patrão” do território, o fornecedor local: “Tinha obrigação [com o fornecedor], tinha que pagar o dono [da droga], o cara que vende tem que ter obrigação de homi”, sublinha Prensado.
No entanto, há casos também em que se deslocam a outras periferias da cidade para buscar as drogas. Como já dito em outros momentos desta série (aqui, por exemplo), o fornecimento é também feito por policiais ou ex-policiais. Muitos dos “aviões” me falaram da diferença no tocante às vendas entre períodos em “guerra” e épocas de armistício. Na “guerra”, a questão da defesa territorial radicaliza-se, os usuários temem ir às bocadas (com exceção dos nóias) e as vendas caem consideravelmente.
Prensado explica como pensa sua atividade enquanto varejista: “Pra mim, é igual um negócio, é igual um comércio, você num compra uma coisa no mercantil pra botar no seu botequim pra você ganhar seu lucro e comprar mais?”.
Estes interlocutores carregam muitas histórias, pois “ao contrário das estereotipias que constroem as figuras fantasmáticas do Traficante e do Crime Organizado, são portadores de um feixe variado de relações e conexões com o mundo social”, pontuam Daniel Hirata e Vera Telles.
Penso que, ao analisar o Grande Tancredo Neves (GTN), não se pode falar de “O tráfico” ou “O traficante” no sentido empregado pelo senso comum. Essas categorias objetificam uma rede de ações heterogêneas dotadas de vasta complexidade social onde convergem e divergem fluxos incessantes de drogas, dinheiro, armas e recursos simbólicos. Os pequenos varejistas das drogas são chamados de “trinta e três”, em referência ao artigo 33 do Código Penal brasileiro que versa sobre o delito análogo à atividade de transacionar drogas ilícitas. Ainda que não seja a maioria dos casos, muitos desempenham um duplo papel criminal, e atuam como varejistas das drogas e assaltantes simultaneamente.
Raposão me disse que em certo momento de sua trajetória “era 33 indo e 157 voltando. Eu ia fazer uma entrega [de drogas] lá na… vamo supor, [bairro] Lagoa Redonda. Eu ia, fazia a entrega, quando eu vinha, já era 157” (se lê um-cinco-sete). Um-cinco-sete (157) é como se referem aos assaltos e assaltantes, também em diálogo irônico com a numeração do artigo homólogo no Código Penal.
Conversei com outro interlocutor que fazia dupla jornada. Mas não era “33 indo e 157 voltando”. Jânio trabalhava como porteiro numa clínica de cirurgia plástica em um bairro das camadas médias e altas de Fortaleza. Seu horário era de 19h às 7h da manhã, em regimes intercalados de 12 por 36 horas, ou seja, trabalhava um dia sim, outro não. Seu outro trabalho era como “avião”, trabalhando para Pango no GTN.
Durante o trabalho de campo, algumas histórias similares à de Jânio surgiram. Ao ser uma atividade que, teoricamente, envolve menos riscos que os assaltos e tem esse caráter sedentário, o tráfico varejista acaba aglutinando jovens que não necessariamente fazem dele a sua principal atividade, sendo os lucros com a venda de drogas um orçamento acessório à renda principal, geralmente em algum emprego superexplorado do mercado de trabalho capitalista.
As “bocadas”
Nenhum signo remete mais ao tráfico varejista de drogas do que a “boca” ou “bocada”. Diferentemente das descritas em trabalhos etnográficos feitos no Rio de Janeiro e em São Paulo, as “bocadas” observadas no GTN são bastante heterogêneas, não sendo possível uma generalização de seu funcionamento. Algumas apresentam mais matizes hierárquicos do que outras. As mais sofisticadas, cujos patrões têm uma caminhada “das antiga” no crime, ou cujos patrões estejam num momento ascendente na carreira criminal, comportam modalidades hierárquicas e divisões funcionais que demarcam o prestígio daquela boca, e a “fama” de seu patrão; geralmente são as mais acionadas do GTN, e que fazem a revenda das drogas para as bocas menores, embora cada uma aufira seu lucro de maneira autônoma.
As bocadas mais simples, que formam a maioria desse universo, muitas vezes mostram-se de maneira contraproducente a algo que remeta a uma estrutura organizacional bem estabelecida; contam com pouquíssimo gerenciamento administrativo, não possuem separações funcionais, balancete financeiro etc., sendo, pelo contrário, gestadas de modo praticamente diletante; são, na maioria dos casos, apenas pessoas que vendem drogas de maneira amadora para auferir lucros monetários. Portanto, esse modelo de operação soa completamente distinto às descrições etnográficas das “biqueiras” profissionalizadas do eixo sudeste, estas atravessadas por separações hierárquicas que formam uma cadeia organizativa e gerencial.
Vou contar um episódio que aconteceu comigo e que exemplifica essa diferença, de maneira geral, entre o diletantismo cearense e o profissionalismo carioca – vale destacar, por oportuno, que esse cenário tem sofrido mudanças significativas nos últimos anos, e percebe-se a ascensão de uma nova “cultura do trabalho” dentro das relações criminais no Ceará. Em uma das vezes em que estive no Rio de Janeiro, subi o morro do Grajaú, na zona norte da capital fluminense, com um amigo cearense, que estava morando em Rio das Pedras, comunidade de Jacarepaguá. Não lembro exatamente o ano, mas penso que foi em 2011 ou 2012. Era noite. Após um baile funk, fomos buscar drogas no Grajaú.
Quando chegamos lá, logo de início avistei um jovem sem camisa e bem à vontade segurando um fuzil. Ele não estava com a arma em ponto de combate, mas com ela bem desleixada apoiada ao chão, quase como uma bengala. Antes do Macaco, meu amigo, me dizer “fica tranquilo”, embora eu nunca tivesse visto um fuzil na minha frente, já tinha entendido rapidamente naquelas rápidas mediações mentais que todos temos conosco que aquela cena era comum por ali. Depois vi outro garoto com mais um fuzil, conversando numa espécie de “rádio comunicador” (walkie talkie). E, mais adiante, outro. Agi com naturalidade diante daquela cena.
Mais à frente, chegando à bocada, outra surpresa. Não era uma casa, ou um barraco. Mas sim uma pequena banca, dessas que se parecem com tendas de festas juninas, montadas em madeira, e com um balcão onde as mercadorias estavam expostas. Era madrugada, mas ainda assim havia uma fila indiana de clientes, muito bem organizada e disciplinada. O jovem que entregava as cápsulas mediante o pagamento estava desarmado, ou pelo menos parecia estar. Não havia nenhuma arma visível com ele. No entanto, atrás dele, como que fazendo a proteção particular, outro jovem segurava um fuzil, mas dessa vez em posição de alerta, “ligado”.
Aquela estrutura organizacional do tráfico varejista era muito exótica aos olhos de um nativo do Ceará, de fato esse dia foi uma experiência antropológica para mim. Para completar, na saída da comunidade, enquanto esperávamos a topique (que no Rio chamam apenas de “van”) para retornar a Rio das Pedras, ao nos localizarmos em uma posição privilegiada do morro em que podíamos vislumbrar parte significativa da noite do Rio de Janeiro, dei uma de turista e tentei tirar uma foto. De algum lugar mais alto do morro, onde não podíamos avistá-lo, um “olheiro” me repreendeu, com algo como um “Eeiii, não pode”. De prontidão, guardei a câmera e pedi desculpas com um “Foi mal, irmão”. No fim, a experiência vivenciada mostrou para mim que, ainda hoje, mesmo com as mudanças processadas nos últimos cinco anos, as dinâmicas e as estruturas do tráfico varejista no Ceará e no Rio de Janeiro permanecem muito diferentes.
Inflação no tráfico varejista no Ceará
No contexto do tráfico varejista das favelas cearenses, há um fenômeno econômico que me intriga, justamente por ser contraproducente à seara do economicismo capitalista: o congelamento dos preços das drogas há mais de vinte anos. Desde o final dos anos de 1990, a “pedra” de crack e o papelote básico de cocaína são vendidos pelos mesmos cinco e dez reais, respectivamente, dos dias atuais. A maconha variou um pouco mais, porque do “solto” ou “camarão” da década de 1990, hoje em dia imperam os “prensados” paraguaios e os “skunks”. Ainda assim, as “balas” de prensado de cinco reais se mantêm com esse preço desde o início dos anos de 2000.
Como entender esse processo em que as mercadorias do tráfico varejista não sofreram inflação em duas décadas? O fato de o Ceará ter hoje diversos laboratórios clandestinos de produção de crack explica, em parte, como esse produto conseguiu manter-se em cinco reais a unidade, uma vez que a produção local consegue compensar os custos da logística para a cocaína chegar até a favela. Considero também que o crack feito hoje em dia nesses laboratórios ilegais tem cada vez menos cocaína e, em seu lugar, outras substâncias mais baratas que imitam os efeitos daquela.
Com relação à cocaína, acredito que aquilo que faz o preço se manter estável por tanto tempo é, por um lado, o aumento do mercado consumidor e do acesso logístico dos fornecedores ao produto, que hoje chega em maior quantidade ao Estado do que há duas décadas. Por outro lado, assim como no caso do crack, também a péssima qualidade da mercadoria, ou seja, cada vez mais o composto que é vendido em cápsulas ou saquinhos tem menos cocaína, e é fortemente “batizado”, quer dizer, são a ele acrescentadas outras substâncias baratas para dar volume e render mais dinheiro aos varejistas.
De acordo com estudo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc), o patamar de cocaína pura na composição de amostras apreendidas no Brasil variou de 15% a 36% apenas. O resto é “mistura”. Embora estejam dentro do sistema de relações sociais do crime, quase não há vinculação direta, no que diz respeito ao manejo com as drogas, entre o tráfico operado nas favelas e o narcotráfico internacional, pois as drogas de cada um dos dois “tipos” de tráfico são diferenciadas, com a última recebendo um tratamento especializado; geralmente, as substâncias enviadas ao mercado exterior são de melhor qualidade, mesmo que também não sejam mais “puras”. As que ficam no mercado interno são de menor qualidade, e no caso da cocaína e do crack, por exemplo, ainda passam por processos de mistura com outras substâncias para render mais, como bicarbonato de sódio, giz, talco, creatina, minaíta, pó de mármore, cafeína, lidocaína, entre outras. Raposão comenta que usando a minaíta “com um quilo de pó tu faz três quilo de pedra. Aquela pedra que arde a garganta. Aquilo é a minaíta e o bicarbonato”.
Em suma, provavelmente, a principal explicação para a não incidência das taxas inflacionárias nesse mercado ilícito deva-se principalmente aos “batizados” e “misturas” que essas mercadorias vêm recebendo progressivamente, transformando-se em produtos de baixíssima qualidade que conservam apenas o nome de cocaína ou crack, mas que são na verdade uma mescla de substâncias que muitas vezes não guardam qualquer relação com elas, como giz, bicarbonato de sódio ou talco.
Não apenas por isso, mas talvez essa vertente de ludibriação do tráfico varejista seja fator importante para a opinião de Saci: “O traficante avicia a pessoa, né, pra depois matar. Pior que tem é traficante. [Mais do que o homicida?, pergunto-lhe] Mais, mah. Homicida ele mata um, dois, de tiro. O traficante, ele mata é muito. Tu acha que ele num mata não muito? Se tu ver o tanto de pessoa que num morre por causa de droga”.
Paradoxalmente aos seus argumentos, Saci, que trabalha como vigia em um bairro próximo ao GTN, conta que faz o papel de intermediador entre alguns moradores da área onde exerce vigilância para que estes acessem cocaína e maconha. Trocando em miúdos, Saci recebe o dinheiro dessas pessoas e vai até a favela buscar a droga para elas. Elas recebem as mercadorias sem sair de casa, estilo delivery, entrega em domicílio.
Bem diferente da modalidade operada por Saci, Raposão, que transacionava grandes quantidades antes de ser preso, me conta como funcionava seu esquema, quando ainda trabalhava para Pango e Boina:
“Aí eu fui fazer o primeiro carregamento, foi meia tonelada de maconha, trazia de fora do Estado pra dentro… [Vinha de onde?] Era geralmente de Juazeiro do Norte [cidade do extremo sul do Ceará, quase divisa com o “polígono da maconha” em Pernambuco], Floripa, ou quando o cara vinha de São Paulo deixava no Pacajus [cidade da região metropolitana de Fortaleza], eu pegava no Pacajus e vinha. Meia tonelada, às vezes duzentos quilo… Aí eu trazia pra uma casa que eu tinha aqui em Fortaleza, uma casa que num levantasse suspeita, 1.200 [reais] pro aluguel, que era pago por eles [Pango e Boina]. [Bairro nobre?] Bairro nobre. Guardava lá dentro, tinha balança, tinha tudo… uma agenda. Aí todos os dias eles botavam no Whatsapp: ‘Ó, hoje tem tantas entrega’, me dava o zap da pessoa e um número seguro pra falar em linha, eu trocava de chip de três em três dias. Aí eu ia fazer as entrega, normal. O apelido do cara, vamo supor, era cara de tamanduá, aí eu chegava lá: ‘Ó o cara de tamanduá’… Vou deixar dois short e cinco blusa, só pra tirar de tempo, mas levava sete caixa de café [dois short, cinco blusa e sete café referem-se a tipos e quantidades específicas de drogas, que são assim faladas para, em caso de estarem grampeados, disfarçarem minimamente acerca do que está sendo transacionado]. Aí eu marcava num restaurante, eu num entrava literalmente pra dentro da favela. Aí eu chegava lá no estacionamento [do restaurante], teu carro já ia parar do lado do meu, a gente fazia a entrega, almoçava e depois… sem levantar suspeita. Aí a gente foi indo. Aí depois ele começou a ter muita amizade comigo, ele viu que eu era uma pessoa capacitada pro negócio, que tinha diálogo, que tinha atitude.”
No caso apresentado por Raposão, o tráfico, que geralmente é “sedentário”, ganha um dinamismo nômade. O agente que trabalha fornecendo drogas para as favelas, como disse o interlocutor, geralmente não entra nesses locais, prefere fornecer as mercadorias em ambiente teoricamente discreto, minimizando o máximo possível os riscos de um contratempo.
Entretanto, estou aqui todo esse texto falando de um tráfico varejista, que, por mais que Raposão movimente meia tonelada de maconha, ele retalha esse montante entre vários pequenos comerciantes de drogas. Poderíamos dizer que Raposão é então um traficante que revende para pequenos “aviões”? Que cada um faça suas análises. Mas eu ainda prefiro endossar o saber empírico de Camaleão: “Traficante mesmo é aquele que nem pega na droga”.
///
A série Antropologia do crime no Ceará é publicada semanalmente no #siteberro. Veja abaixo os textos anteriores.
artur@revistaberro.com / revistaberro@revistaberro.com
i. A dimensão ética na pesquisa de campo
ii. Pesquisando o “mundo do crime” e inserindo-se no “campo”
iii. Grande Tancredo Neves: formação dos territórios
iv. As relações sociais das camadas populares
v. A feira como arte da oralidade popular
vii. Estabelecidos e outsiders: a favela dentro da favela
viii. “Trabalhadores” e “bandidos”: entre separações e aproximações
ix. Sistema de relações sociais do crime: uma rede de ações criminais hierárquicas
xi. “Não confio na polícia”: A relação de descrença entre a classe trabalhadora e os policiais
xii. A economia da corrupção que move a relação entre polícia e “bandidos”
xiv. Tecnopolítica da punição: A função econômica do encarceramento
xv. Estado punitivo-penal e a produção social da delinquência
xvi. “Cadeia é uma máquina de fazer bandido”
xvii. A “escolha” é uma escolha? Compreendendo o ingresso nas relações criminais
xviii. Consumo, dinheiro e sexo: a tríade hedonista da carreira criminal
xix. Traumas, complexos e a luta por reconhecimento (parte I)
xx. Traumas, complexos e a luta por reconhecimento (parte II)
xxi. “Fura até o colete dos homi”: As armas como símbolo dominante
xxii. Os códigos morais da criminalidade favelada (parte I)
xxiii. Os códigos morais da criminalidade favelada (parte II)
xxiv. “Mãezinha”: uma categoria local que põe em suspensão o ethos violento
xxvi. “O crack veio pra acabar com tudo”: o noia como um “zé ninguém”
xxvii. “Você conquista o respeito, você num impõe”: A liderança nas relações criminais
xxviii. As “brigas de trono”: as disputas pelo comando territorial
xxx. Crônica de uma guerra entre quadrilhas de “traficantes”

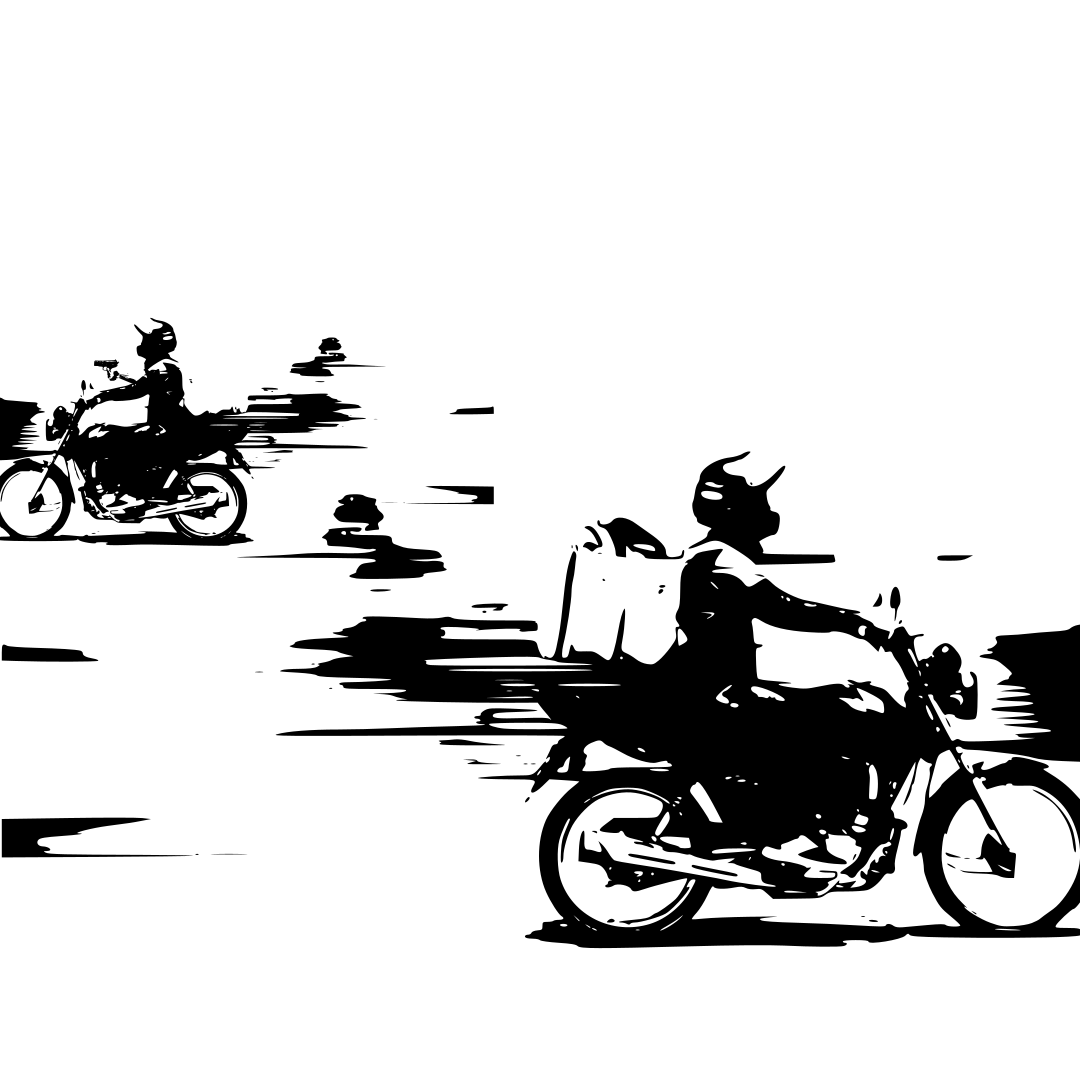
4 Replies to ““Traficante é aquele que nem pega na droga””