4 Comentários
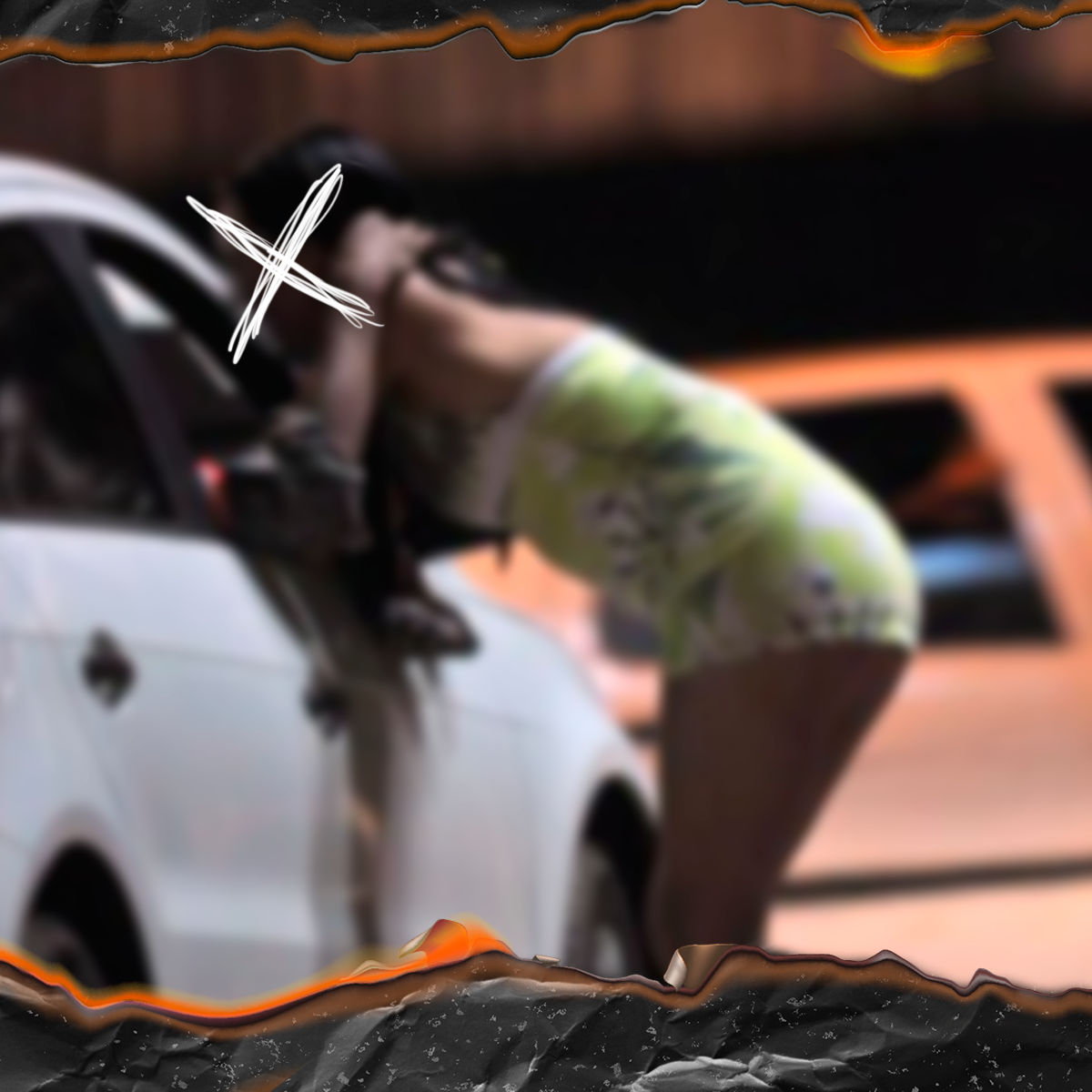
Quando se pensa em uma subjetividade alicerçada em cima de experiências de preconceito e de exclusão social percebe-se que, por mais que o dinheiro exerça uma atração fascinante nesse contexto, há muito de imaterial e simbólico que transborda essa configuração e que, portanto, precisa ser considerado na análise.
Acredito que há, portanto, em muitas favelas brasileiras, uma relação entre práticas criminais e traumas psicológicos profundos, e muitos destes desembocam em processos adoecedores de revolta com a própria vida, bem como desembocam em depressão. Não foram poucas as vezes que deparei com interlocutores que estavam enfrentando problemas psicoemocionais conturbados. Alguns usaram o nome “depressão” para dar conta de suas angústias, outros não lançavam mão do termo, mas suas experiências frustrantes e aflições cotidianas me apresentavam contornos depressivos.
Marleide é uma trabalhadora de um prostíbulo no Grande Tancredo Neves. Senti muita tristeza nos olhos dela quando conversamos em seu local de trabalho. Ao falar das suas experiências, por diversas vezes tremeram-lhe os lábios e o queixo, mas ela dominou-se. Ela me falava como se sua vida não fosse digna de ser vivida. Marleide foi estuprada na adolescência, mas não revelou a mim quem foi o agressor. Perdeu um filho por erro médico: “Disseram que o menino tava com leucemia, aí botaram uma bolsa de sangue que não era compatível com o dele. Aí o menino faleceu”. A outra filha foi afastada do seu convívio pelo ex-companheiro; ela não pode vê-la. Marleide começou a usar cocaína aos 17 anos e logo depois “caiu na pedra”. Saiu de casa após a morte da mãe e então começou a vender o corpo para sustentar o vício. Nesse contexto, já foi presa seis vezes por tráfico de drogas e assaltos. Hoje, faz “programas” por até míseros cinco reais: “Eu não precisava vender meu corpo não, [mas] foi a necessidade de esquecer o sofrimento. Eu esqueço na droga, na bebida…”. Marleide me contou que já tentou matar-se oito vezes. Em uma destas, ficou nove dias em coma, mas recuperou-se. Pergunto-lhe qual sentido ela dá para sua vida:
“Pra mim não tem nenhum sentido, eu num sei o que é vida. Tu acha que isso que eu tenho é vida? [E o que é uma vida?, pergunto-lhe] Gente que tem família, mãe. [Ter uma mãe? A tua mãe era a tua referência?] Era tudo que eu tinha. Eu não tenho ninguém por mim”.
Mais à frente no bate-papo, pergunto-lhe o que ela gostaria de fazer caso algum dia saísse do prostíbulo. Foi um momento que muito me angustiou na nossa conversa:
— Ir pro cemitério.
— Tu não pensa em outro modo de vida, outra coisa?
— Como é que eu vou pensar, porque quando eu me acordo, ave-maria, eu tenho que beber, usar droga…
— Todo dia tu bebe?
— Todo dia. Só assim eu esqueço tudo.
— Todo dia tu usa pedra também?
— Todo dia eu uso.
— Então tu não se imagina daqui a cinco, dez anos, como vai estar a tua vida?
— Que vida?
— Quem é a [Marleide]?
— Ninguém.
— Você é alguém sim, quem é?
— Já fui.
— Quem é?
— Ninguém.
— Hoje você não é mais ninguém?
— E nem pretendo a ser. Não quero mais fazer o mal que eu fazia, né, mas não sou ninguém nem pretendo ser.
Penso que diante destas ranhuras nas paredes de sua subjetividade, face a estes eventos que geram traumas, complexos e revoltas, os praticantes criminais empreendem processos ativos e conscientes de luta por reconhecimento: “Há uma fome mais funda que a fome, mais exigente e voraz que a fome física: a fome de sentido e de valor; de reconhecimento e acolhimento; fome de ser”, conta Celso Athayde, em Cabeça de porco. Ele continua: “Quando socialmente invisível, a maior fome do ser humano é a fome de acolhimento, afeto e reconhecimento. Pressionado por esta fome profunda, os jovens recorrem aos expedientes acessíveis, até à violência”. De acordo com a socióloga Glória Diógenes, em Cartografias da cultura e da violência: gangues, galeras e o movimento hip hop, é justamente nesse momento que “a manifestação da violência, entre os participantes das gangues, passa a ter uma dimensão positiva, ela se coloca como campo propulsor de conflitos e deflagrador de diferenças. Sendo assim, a violência se exerce, dentro da experiência das gangues, como um modelo sui generis de um segmento ignorado, esquecido nas sombras da periferia, se fazer ver, se fazer existir. A experiência das gangues torna-se assim um modo de “inclusão” social às avessas cujo passaporte é a violência e a marca cultural é o território. ”
A dimensão positiva da criminalidade pobre se reveste então como uma possibilidade desses agentes se fazerem existir socialmente, de manejarem o poder em condições de subalternidade, mesmo contra todas as coações e preconceitos da ordem dominante. O culto da violência próprio das gangues e facções é, exclama o sociólogo Michel Misse, uma maneira de construir identidades prestigiosas que deslocam os condicionamentos sociais para fora de si, em uma região moral (as favelas) onde, de antemão, estes personagens estariam abandonados a uma vida invisível e totalmente ignorada, na qual o fio de ligação entre o momento atual e o desejo de futuro está roto. A violência é provocada e até mesmo procurada ansiosamente. As gangues funcionam como ponte que facilita o acesso à ação violenta.
Dessa maneira, a violência destrutiva das facções “é uma maneira de dizer ‘Veja, eu estou aqui’. É a criação negativa”, como pontuou Anthony Burgess, no prefácio da edição comemorativa de 50 anos do seu clássico romance distópico Laranja Mecânica. Praticar inúmeras formas de violência contra os pretensos “inimigos” (o estatismo, a ordem empresarial e as facções rivais) torna-os considerados. Ser “considerado” em uma rede de relações criminais é ser detentor de capitais simbólicos que atraem e concentram valorações positivadas e distinções exclusivistas em relação aos demais. De acordo com Jânia Aquino e Leonardo Sá, em “Consideração” e “competência” entre assaltantes: etnografias da sociabilidade armada, “tornar-se considerado entre os ladrões é ser acolhido, reconhecido e respeitado pela força, pela inteligência, pela amizade ou pelo terror. Há uma cosmologia política da pessoa enquanto instância reconhecida de respeito e moral.”
A gangue, o bando, a “galera”, o “enxame”, o “mulão”, a quadrilha, ou a facção fetichizam os praticantes da criminalidade favelada porque se apresentam como uma estruturada rede solidária de ações recíprocas e de afetividade coletiva, de um lado; e por outro, como um núcleo de agressividade e reação a tudo o que contraria seu direito de existir e de exercer relações de poder. Como bem ressaltou Edgar Morin, em Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. v.1: Neurose, a gangue “é como o clã arcaico; é um clã em estado nascente. É o sonho maldito e comunitário do indivíduo ao mesmo tempo reprimido e atomizado, o contrato social da alma obscura dos homens sujeitos às regras abstratas e coercitivas”.
As “parcerias” geradas nos bandos funcionam como um mecanismo de proteção ontológica a um Eu (self) instável e inseguro, devassado por estigmatizações as mais diversas. Os bandos, ressaltam Deleuze e Guattari, em Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, se caracterizam por uma “mundanidade” que se assemelha a uma matilha. Essa forma de composição singular dos bandos é alheia aos indivíduos socialmente alinhados com as técnicas disciplinares da ordem, uma vez que estes preferem a “socialidade” à “mundanidade”.
Ainda sob essa análise, mas agora dialogando com o historiador Edward Thompson, poderíamos pensar, portanto, as ações delitivas realizadas pelos praticantes da criminalidade favelada como uma economia moral da contra-violência, uma revolta justificada como vingança face a uma violência simbólica e estrutural praticada pelos estatismos e pelos segmentos hegemônicos. A partir dessa perspectiva, sou incitado a problematizar as “escolhas” criminais dos sujeitos pauperizados: sendo elas meios para obter um lucro ou fagocitismo simbólico diante das violências estatais-empresariais – o assujeitado torna-se assujeitador – e, mediante o fato de que ocorrem por meio de uma reivindicação de dignidade e reconhecimento face ao espólio e à estigmatização dos segmentos marginalizados, penso que o conceito thompsoniano de economia moral da violência cabe ao contexto da criminalidade pobre no Brasil. “A revolta também gera isso aí”, prenunciou Camaleão.
Não podemos desconsiderar também que o ingresso nas atividades criminais funciona como um “rito de passagem” nesse percurso ascensional da “carreira” no crime, e por isso tem também toda uma carga motivacional que influi por esta opção. Alguns interlocutores usaram inclusive o vocábulo “currículo” para se referir ao acúmulo de histórias vivenciadas na experiência criminal. As “escolhas” pelas atividades criminais estão emaranhadas junto a uma rede de ilegalismos, práticas informais e “gambiarras” que são agenciadas nas áreas periféricas.
Portanto, pensar a “escolha” pela “vida no crime” nas periferias é embrenhar-se numa floresta de possibilidades, facilitadas ou impedidas em relação com circunstâncias psicológicas e sócio-históricas específicas. Para esse exercício, é fundamental pôr em suspensão os julgamentos morais condicionados por uma narrativa comum estereotipada e, por outro lado, esforçar-se por compreender analiticamente – sobretudo sob o exercício da alteridade – as dinâmicas psicológicas (individuais) e sociais (coletivas) que constroem essas tomadas de decisão, a partir de uma escuta atenta e reflexiva do discurso elaborado pelos praticantes criminais pobres.
///
A série “Antropologia do crime no Ceará” é publicada semanalmente no #siteberro. Veja abaixo os textos anteriores.
artur@revistaberro.com
i. A dimensão ética na pesquisa de campo
ii. Pesquisando o “mundo do crime” e inserindo-se no “campo”
iii. Grande Tancredo Neves: formação dos territórios
iv. As relações sociais das camadas populares
v. A feira como arte da oralidade popular
vii. Estabelecidos e outsiders: a favela dentro da favela
viii. “Trabalhadores” e “bandidos”: entre separações e aproximações
ix. Sistema de relações sociais do crime: uma rede de ações criminais hierárquicas
xi. “Não confio na polícia”: A relação de descrença entre a classe trabalhadora e os policiais
xii. A economia da corrupção que move a relação entre polícia e “bandidos”
xiv. Tecnopolítica da punição: A função econômica do encarceramento
xv. Estado punitivo-penal e a produção social da delinquência
xvi. “Cadeia é uma máquina de fazer bandido”

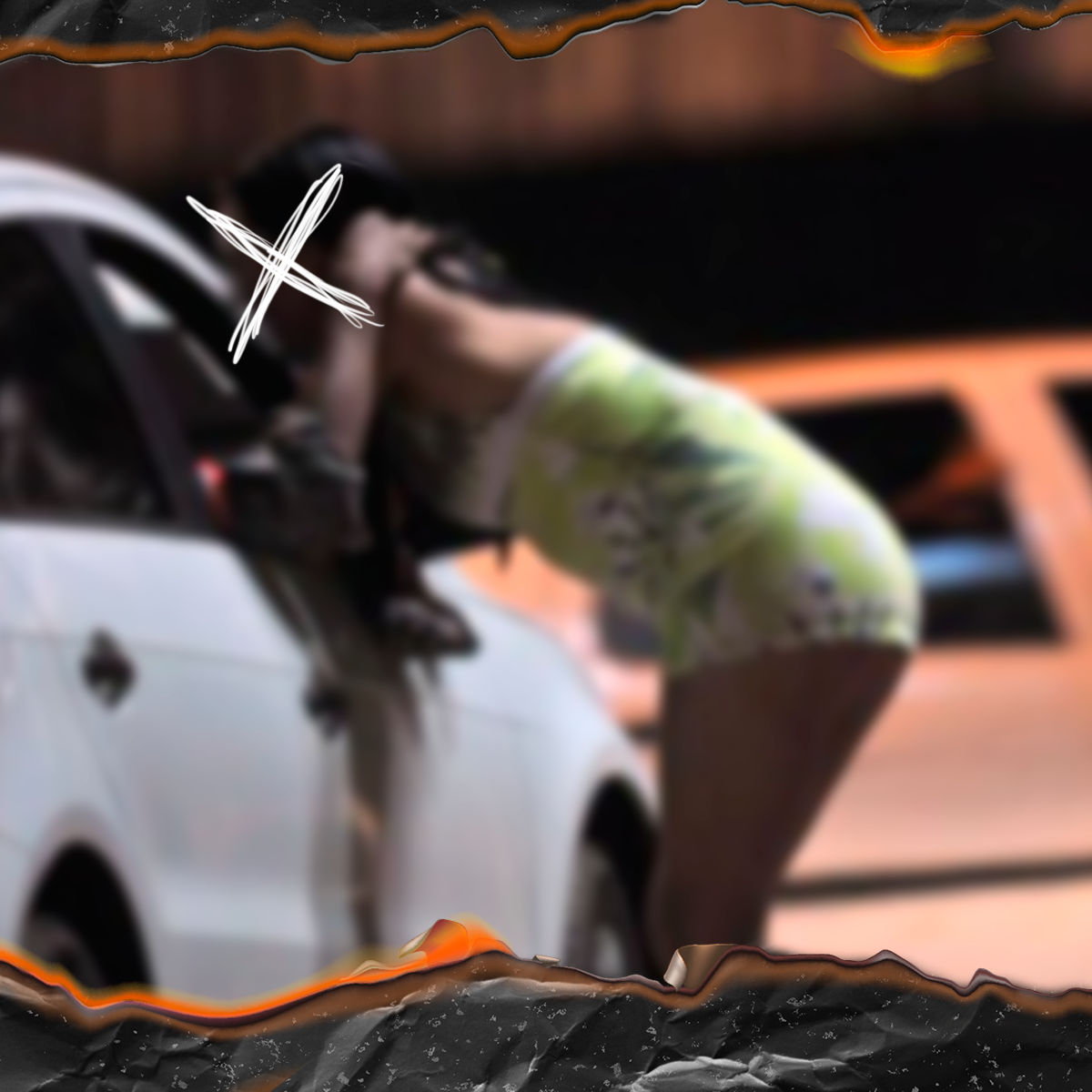
4 Replies to “Traumas, complexos e a luta por reconhecimento (parte II)”