8 Comentários
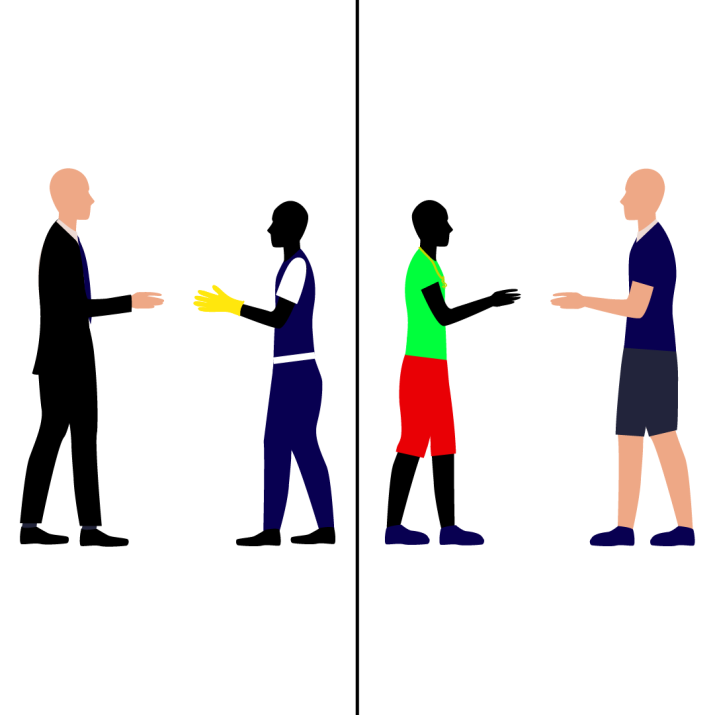
Se há um discurso bastante recorrente entre as pessoas que vivem na favela no sentido da diferenciação é aquele que divide as categorias nativas “trabalhadores” e “cidadãos”, de um lado; e “bandidos” e “criminosos”, de outro. Essa narrativa é retroalimentada no cotidiano por ambas as categorias, que se reconhecem e se legitimam enquanto tais representações, cada uma elencando argumentos que justifiquem sua tomada de posição e seu lugar moral no território.
Para as pessoas que praticam atividades criminais, o “trabalhador” se submete a jornadas exaustivas e aos mais diversos abusos de seus patrões – “é um ‘otário’ que trabalha cada vez mais para ganhar cada vez menos”, como disse um dos interlocutores da socióloga Alba Zaluar, em A máquina e a revolta, a partir de pesquisa realizada nos anos 1980 na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Para os adeptos da criminalidade pobre, o trabalho formal não compensa como meio de vida. A socióloga Glória Diógenes também refletiu sobre essa questão na sua pesquisa Cartografias da cultura e da violência: gangues, galeras e o Movimento Hip Hop, realizada em Fortaleza no início dos anos 1990, pontuando que estes jovens preferem guiar-se por um “vício da ociosidade”: “A situação do nada o que fazer, a vivência absoluta do ‘tempo livre’ mobiliza o contingente de excluídos a romper com a premissa básica de que ‘o trabalho dignifica o homem’ e afirmar, dentro do campo mais próximo da delinquência, o seu contrário: ‘o trabalho não compensa’”.
Suas escolhas envolvem uma relação mais imediata entre tempo e dinheiro, regulada por uma lógica hedonista e de imitação – no que diz respeito ao acesso a produtos da cultura pop – em relação às juventudes das classes abastadas. Na pesquisa com os jovens da Cidade de Deus, Alba Zaluar já observava que as aspirações de consumo dos “bandidos” diferenciava-se das mantidas pelos “trabalhadores”, o que contribuía para provocar um distanciamento no campo das subjetividades entre as categorias.
Na outra ponta, os “trabalhadores(as)” constroem representações e imunidades morais relacionadas à honestidade, à integridade e correção dos seus atos; recorrem muitas vezes a uma tentativa de se fazerem incluídos num circuito precário de cidadania e garantias civis e sociais. Aliam a pobreza econômica e simbólica a uma ética do trabalho capitalista – muitas vezes ascética e disciplinada – como fonte de dignidade que dá sentido a suas vidas. Buscam na memória social das antigas gerações e nas histórias orais das pessoas mais velhas os modelos de trabalho árduo de que se valem para legitimar suas posições.
Os pais, mães e avós geralmente são referências de pessoas que trabalharam arduamente para conseguir “dar de comer” às suas famílias. Neste ponto, é pertinente trazer ao debate a teoria weberiana da relação entre ética do trabalho, religião e modernidade. Para Weber, em A ética protestante e o espírito do capitalismo,
a moral protestante abriu clareiras para a acumulação de capital e para a consolidação de um ethos burguês, que dali em diante deveria ser seguido como referência única de comportamento social. Ao basear-se na ética da “salvação” pelas obras materiais e na profissão como dever divino, essa ética do trabalho preparou a argamassa da submissão voluntária das classes populares às subcategorias do mercado de trabalho capitalista.
Vale destacar também, por oportuno, que a configuração trabalhador-bandido não é estática e com nítidas fronteiras de separação como à primeira vista pode parecer. Estas categorias transitam, se interpõem e se deslocam de acordo com os contextos práticos experimentados na luta pela sobrevivência cotidiana; acionando papeis sociais que passeiam entre o informal, o ilegal e o ilícito. Entre as pessoas pobres uma teia de ilegalismos é ativada como efeito reativo de uma luta diária para alcançar uma subsistente porção de dignidade material. A cidade funciona então como um grande “bazar”, um “balcão de oportunidades”, para usar os famosos termos de Ruggiero e South, em The late-modern City as a Bazaar: drug markets, illegal enterprise and the ” barricades”.
Michel Misse vai ao encontro dessas proposições. Para o sociólogo, em Crime e violência no Brasil contemporâneo: Estudos de sociologia do crime e da violência urbana, “a indiferença geral às regulamentações de tributos e direito comercial, com centenas de milhares de biroscas sem alvarás, os mais diferentes tipos de trabalho informal, a conexão entre a rede de camelôs, o contrabando e o roubo, as feiras de objetos furtados ou roubados, a onipresença agressiva dos ‘flanelinhas’, a prostituição de menores nas áreas periféricas, os ferros-velhos semilegais, a indústria de despachantes, vendedores de ouro, pontos de jogo do bicho, bocas-de-fumo, táxis ‘malandros’, o contraventor-mecenas das escolas de samba, etc., […] tudo isso não parece estruturalmente conectado às chamadas ‘populações marginais’, aos seus modos de operar o poder nas condições de subalternidade, de ‘absoluta falta de grana’, de inexistência real de cidadania, etc.?”
É, portanto, nessa rede comunitária de ilegalismos e nessa luta diária que as classes populares empreendem as muitas criativas “gambiarras” de que se valem para sobreviver em contextos de adversidade econômica. Como me disse certa vez Prensado (nome fictício), 31 anos, um ex-traficante que parou de transacionar drogas porque estava ficando muito “visado” e temia ser morto por traficantes rivais ou pela polícia. Lutando para sobreviver como “trabalhador”, ele se “especializou” nas gambiarras:
“Bota uma coisa na tua cabeça: a coisa tá difícil, parceiro. Pra mim arranjar um bico é muito difícil, avalie arrumar um trabalho. O cara mal arranja um bico, tá entendendo? Nunca trabalhei de carteira assinada, num sei nem o que é trabalhar de carteira assinada. Eu faço de tudo… bico quando aparece, servente, eletricista, eu sou o rei da gambiarra, parceiro, gambiarra é comigo mesmo”.
Há outras razões que borram as fronteiras entre as duas categorias aqui analisadas. Penso que a mais densa delas é que praticamente toda pessoa “trabalhadora” na favela conhece alguém envolvido em atividades delitivas, seja este seu parente, seu amigo, seu vizinho, o filho da fulana, o neto do ciclano, etc. Esse fator pode acarretar na desconstrução de muitos estigmas e julgamentos morais. Muitas vezes, nas casas que funcionam como “bocadas”, moram trabalhadores e trabalhadoras dos mercados formais e informais que, apesar do movimento do tráfico realizado em seus domicílios geralmente por filhos, cônjuges ou pais, continuam dedicados a “vencer na vida” honestamente. A segunda razão que merece relevo é que, mesmo com a divisão na dimensão capital-trabalho, essas categorias estão unidas pela despossessão sociossimbólica. E essa exclusão recíproca em que estão enredados(as) é forte demais para ser esquecida. Ela os aproxima por laços invisíveis de empatia e identificação. A terceira razão que aqui destaco está relacionada com a indiscriminada violência policial diante de ambas as categorias: “É o policial instruído nas técnicas repressivas quem acaba por promover ainda mais a indistinção entre trabalhador e bandido ao revistar brutalmente e prender os primeiros apenas por ser preto ou pobre, apesar de ter consigo o documento instituído para diferenciá-lo do segundo”, sublinha Zaluar na obra já mencionada. Por fim, por morarem no mesmo território e estarem sujeitos a se esbarrarem no dia a dia, em alguma medida precisam aprender a conviver conjuntamente. Essa necessidade de adaptação, vale dizer, recai muito mais sobre o ombro dos trabalhadores do que o contrário.
Em suas falas, as trabalhadoras do GTN expressam essa tentativa: “Cada qual veve sua vida. Aqui num tem roubo na rua, nem roubo de casa. Não existe esse grande respeito [usa as mãos para enfatizar o grande], mas tem um pouco, né?”, me relata Cibele, 35 anos, doméstica. “Eles lá na casa deles, eu na minha. Não é questão de medo, mas quanto mais a gente se afastar é melhor. Pode estar na hora errada e as balas perdidas acertarem a gente”, arremata Lúcia, 37 anos, diarista. Dona Fátima, 64 anos, também doméstica, amplia os tons dessa dubiedade, alegando uma suposta conformação com a atividade criminal, desde que esta não a alcance: “Eu também não vou confiar, mas a gente tem medo porque eles podem se estranhar, mas eles não mexendo com a gente… Até agora, graças a deus, ninguém nunca mexeu com nós”. Francisca, 46 anos, costureira, endossa a perspectiva de dona Fátima: “Isso daí não é comigo… como é que se diz… cada pessoa faz o que quer da sua mente, né? Por incrível que pareça, eu sempre andei nos canto, graças a deus nunca aconteceu nada comigo. Inté o momento não encontrei ninguém no meio da rua pra fazer o mal não”.
Dona Madalena, 65 anos, costureira, também relativiza o cenário da criminalidade local, uma vez que este ainda não chegou até ela: “Tinha medo e tudo, mas nunca mexeram comigo não. Graças a deus nós não somos envolvidos em nada. Eu fico aqui sentada, de noite eu boto a cadeira aí [na calçada], eu fico até onze horas, onze e meia, tranquila. Ninguém mexe comigo não”. Carlos, vendedor de 27 anos, diz que nem sempre os “bandidos” fazem uma avaliação de risco e separação entre categorias quando estão em plena descarga emocional: “[Tu acha então que os bandidos respeitam as pessoas que não estão envolvidas?, pergunto-lhe.] Nem sempre né, aqui mesmo, aqui tem caso que vieram pra matar um e matavam quem não tinha nada a ver, entendeu?”.
Já dona Albanisa, 48 anos, doméstica e evangélica praticante, me lança uma chuva de sinceridade espontânea sem tantas mediações: “Rapaz, na minha opinião, essas pessoas criminosas, que veve no mundo do crime, que mata, que assalta, na minha opinião quando pegarem eles era pra matar. Porque assim… eles fazem isso sem pena nem dó, eles tão no mundo do crime, num tá se importando com a vida de ninguém, só se importam com eles mesmos, com o que eles tão fazendo. [Então a senhora acha que quem mata merece morrer?, questiono-lhe.] Isso! [Mas isso não é contraditório com os ensinamentos de Jesus Cristo?, problematizo.] É, é sim…. tem o perdão! [A senhora acha que Jesus em algum momento ia querer a morte de alguém?] Não, não! [Então por que a senhora pensa assim?] Porque dá raiva! Dá revolta, num sabe? A gente às vezes fala coisas que num deve falar, mas devido à raiva, à injustiça, é muito horrível. Nada aqui nessa Terra é certo, tá todo mundo doido, todo mundo revirado…”.
Percebi nas falas dos “trabalhadores” e “trabalhadoras” uma certa ambiguidade com relação à idealização da figura do bandido como um “defensor do povo” ou alguma significação que o valha. Na maioria das conversas, o contexto de conformidade com a criminalidade dava-se sobretudo se viesse mediante uma não interferência na sua socialidade, no seu ir e vir cotidiano. Esta foi a tônica dominante dos discursos nas entrevistas que realizei com “trabalhadores” e “trabalhadoras”.
Por sua vez, os “bandidos” reivindicam em suas retóricas eloquentes um pretenso papel de protetores da comunidade. Todos com os quais conversei relataram boas relações com a vizinhança e me sublinhavam acerca de suas ações solidárias ou assistencialistas.
Papagaio, 36 anos, traficante de drogas, comenta que “todo mundo dá valor a mim. Num tem quem diga mal de mim não.
Porque eu traficava aqui, mas num deixava ninguém mexer não, num deixava ninguém roubar aqui, nem ali. Se mexer com meus vizim eu corto só os dedo com facão assim ó… É ordem viu menino. E quando roubava, eu ia buscar o ladrão e fazia entregar. E quando entregava, nós pegava, amarrava ali e dava uma peia de cinturão, cabo de fio, murro, chute… eu dava só de joelhada, aí fui mandar buscar um revólver pra matar ele, aí os menino num acharam o ferro, aí mandei ele sair voado, aí nunca mais apareceu. Nós num ia matar não, ia dar só um tiro nas perna, na mão, e na outra mão… mas aí mandei ele sair fora”.
Percebe-se que nessas autodefinições heróicas há projeções idealizadas, que não encontram morada na realidade. Quando Papagaio tem convicção de que “todo mundo dá valor a mim”, ele desconsidera que os “trabalhadores(as)” em muitos momentos precisam teatralizar nas vielas e esquinas uma empatia que não existe na intimidade de suas casas. Nestes “úteros” de segurança e espontaneidade que são seus lares, os “cidadãos(ãs)” acionam seus rancores reprimidos na esfera pública, rogam pragas e toda sorte de palavrões contra aqueles “bandidos” responsáveis por mudar suas rotinas cotidianas e sua socialidade. Dessa forma, a adesão pública dos(as) “trabalhadores(as)” à organização social violenta do território se interpõe na maioria dos casos como uma submissão, uma avaliação objetiva dos riscos de retaliação que uma afronta a estes jogos sociais poderia acarretar a si e às suas famílias.
Na mesma toada de autoidealização, Pango, 28 anos, traficante de drogas e de armas, e “patrão” de um dos territórios do Grande Tancredo Neves (GTN), diz que “a vizinhança aqui é tudo limpeza, tudo respeita, eu também respeito eles, chego junto com eles… assim, tipo um roubo, se eles tão precisando de algum dinheiro, alguma sustança, eles vêm até mim e eu… [Tu empresta?] Empresto, se eu puder ajudar de qualquer maneira, eu ajudo”.
Raposão, 34 anos, também traficante de drogas e de armas, e assaltante de residências de luxo, estabelecimentos comerciais e casas lotéricas, aciona um enredamento entre bandido e trabalhador como se as categorias funcionassem de modo harmônico e cooperativo, e a qualquer ruído nesse processo, o(a) trabalhador(a) – que está sob forte coação imposta pelo poder das armas – sofreria severas consequências: “Hoje em dia quem fortalece o crime é a população, é o cidadão, quando você protege o cidadão, quando você precisa ele lhe protege, ele guarda uma coisa, ele lhe guarda; e quando você faz o contrário, ele lhe cabueta [denuncia], aí você vai ter que obrigatoriamente tirar a vida de uma pessoa”.
No mais das vezes, como mencionado, essa figura de herói da comunidade é autoconstruída em apenas um dos polos, ou seja, o lado dos “bandidos”, principalmente reforçada por estes quando contam, aos arroubos histriônicos, estórias que se propõem como fantásticas, em que atuaram como mediadores morais dentro de uma sociabilidade criminosa. “O bandido protetor, por mais um desses paradoxos do Brasil de hoje, garante a ordem social e faz a justiça, obrigando muitas vezes os pequenos ladrões a devolverem os objetos furtados a seus donos, vizinhos e trabalhadores”, já observava Alba Zaluar em sua pesquisa em uma comunidade do Rio de Janeiro nos anos de 1980.
Raposão gaba-se ao detalhar um desses casos: “O cara roubou agora há dois dias atrás um ônibus, Oliveira Paiva/Papicu/Parangaba, né? E entrou com o ônibus lá na [localidade], aí correu e se escondeu na casa de um cara que a gente já tinha brecado no crime também, porque é pirangueiro. Aí a gente saiu catando, catando, pulando quintal, aí achamo o menino. Como tinha sido a primeira vez que eu falei pra ele não fazer aquilo, a gente deu a ele a oportunidade de viver, mas mandamo ele devolver tudo que ele tinha roubado. Tudo. O cara saiu aqui na moto, foi pegar o ônibus lá perto do terminal da Parangaba, fez o ônibus voltar pra [localidade], e perguntei: o que foi subtraído da população do ônibus aí? ‘Foi só nove celular’. Eu vim com um pacote de celular aqui e mostrei, quem é os dono e saí dando… aí falei pra ele não pisar mais lá, se ele pisar lá, aí ele já tá passando por cima da palavra do Comando Vermelho, que tá acima de qualquer membro, entendeu?”
O caso relatado, confirmado após entrevistas com outros “bandidos” da área, inclusive de grupos rivais ao de Raposão, não pode ser lido de forma apressada somente como uma benevolência gratuita aos(às) passageiros(as) do ônibus. A moralidade criminal é ambiguamente flutuante, não se dociliza diante dos ordenamentos e injunções jurídicas estabelecidas tampouco obedece a um padrão assentado na garantia dos direitos e da dignidade humana. Se por um lado não se pode negligenciar a ação “generosa” dos bandidos nesse evento, de outro é importante tentar perceber todas as intencionalidades que ela envolve. A ação, primeiramente, evitou que a polícia fosse acionada e ocupasse ostensivamente o território, o que poderia diminuir os lucros do tráfico. Outra perspectiva é que, ao recuperar os objetos roubados e devolvê-los às vítimas, os bandidos dessa facção amealharam recursos de poder simbólico junto à sua comunidade, uma vez que, apesar de não terem sidos os(as) moradores(as) locais os(as) beneficiados(as) diretos pela ação, mostraram à vizinhança que ali, naquele território, ninguém pode roubar ou infringir determinadas regras morais, e quem as cometer sofrerá severas punições. Representativamente, os bandidos jogam com os desejos libidinais de proteção e segurança que estas comunidades – situadas em meio ao fogo cruzado de uma guerra faccional – manifestam.
De forma indireta, diante de um aparelho estatal (policial e judiciário) que as generaliza como perigosas e, por isso, as sujeita a um controle social violento e ostensivo, essas populações – se não explicitamente, lá no fundo do inconsciente – nutrem uma “secreta admiração”, como pontuou Walter Benjamin, em Crítica da violência – crítica do poder, por esses personagens criminais, principalmente pelos bandidos “de responsa”, pois eles corajosamente enfrentam esse monopólio de poder e violência reivindicado como legítimo pelas agências do estatismo:
“Quantas vezes a figura do ‘grande’ bandido não suscitou secreta admiração do povo, por mais repugnante que tenham sido seus fins? Isso é possível não por causa de seus feitos, mas apenas por causa do poder que se manifesta nesses feitos. Nesses casos, portanto, o poder – que o direito atual procura retirar do indivíduo em todas as áreas de atuação – se manifesta realmente como ameaça”, finaliza Benjamin.
Diria que nesta “secreta admiração” há uma pitada saborosa de vingança, algo como uma dignidade restituída, um fagocitismo simbólico contra a ordem estatal. Os bandidos “de responsa” geralmente são aqueles com longa carreira na criminalidade e lançam mão de um código moral que tem como premissa basilar o respeito às pessoas da comunidade onde vivem. Na contramão, está o bandido “vacilão”, “mosca de boi”, geralmente o iniciante, muito jovem, menor de idade, afeito à impulsividade etária, que desrespeita esses modelos de comportamento e conduta face aos pares favelados.
Dessa maneira, essas disposições emocionais, psíquicas e econômicas que empurram “bandidos” e “trabalhadores” para um mesmo universo simbólico é uma força de atração possante, invisível e incalculável, que os mantêm amalgamados para além de suas estéreis tentativas discursivas de separação. Na realidade empírica, na existência ordinária e nas práticas diárias das pessoas, estas categorias não se discernem nitidamente, estão sempre se entrecruzando e comutando numa dimensão quase simbiótica.
///
A série “Antropologia do crime no Ceará” é publicada semanalmente no #siteberro. Veja abaixo os textos anteriores.
i. A dimensão ética na pesquisa de campo
ii. Pesquisando o “mundo do crime” e inserindo-se no “campo”
iii. Grande Tancredo Neves: formação dos territórios
iv. As relações sociais das camadas populares
v. A feira como arte da oralidade popular
vi. Estabelecidos e outsiders: a favela dentro da favela

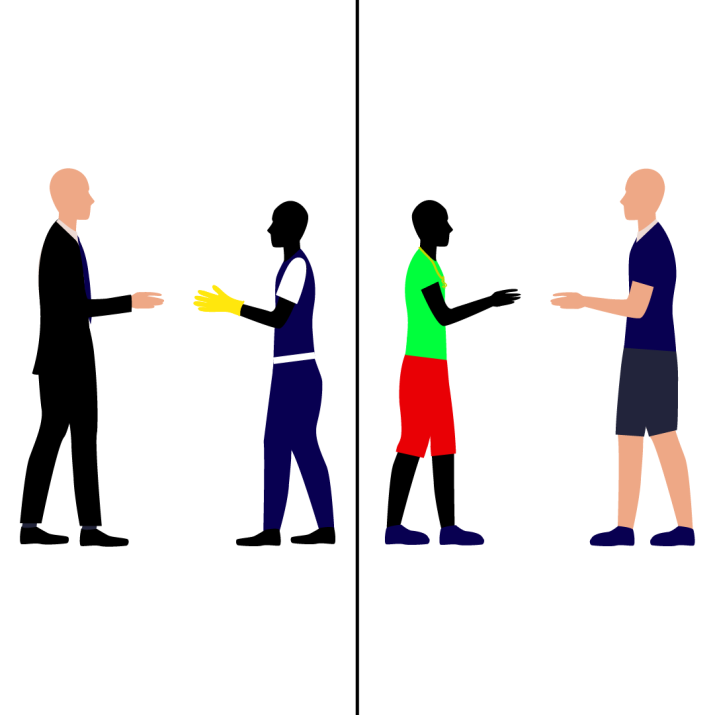
Texto muito bom, muito bem embasado. Os relatos são fantásticos e ao mesmo tempo chocantes….Seria muito bom se este tipo de trabalho conseguisse atingir um número grande de pessoas para que elas pudessem ir criando ou ampliando seu senso crítico….Falta muito senso crítico na humanidade.
Silverio Viola Jr.