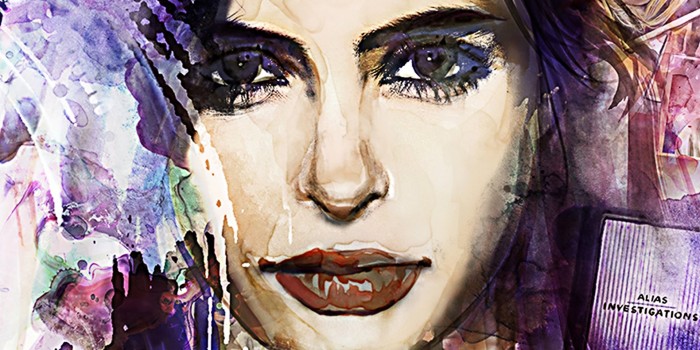0 Comentários
Por Tomaz Amorim
Como escrever sobre um seriado de grande projeção criado e protagonizado por mulheres sem reduzi-lo exclusivamente a esta feliz excepcionalidade? Um dos problemas da sub-representação de grupos na produção cultural é sua típica redução na recepção. Como se Jessica Jones falasse apenas de e para mulheres. A amplitude das questões sobre as quais obras assim tratam é de antemão limitada ao grupo social do qual seus produtores – ou seu público-(não-)alvo – fazem parte. O mesmo não se dá com obras-padrão, produzidas por grupos super-representados, privilegiados que, embora sejam numericamente minorias (o famoso 1%, em tantos aspectos), falam e são escutados como representantes da maioria. Assim, no mundo dos super-heróis Super-Homem e Homem-Aranha, embora tenham sido produzidos pelo mesmo perfil que encarnam, estadunidenses masculinos e brancos, são recebidos como representantes universais das aspirações de todas as pessoas quando superam seus dilemas e traumas pessoais ou se sacrificam em prol do bem comum, enquanto a Mulher Maravilha ou a Spider Gwen são tomadas como representantes das mulheres e das questões e aspirações específicas das mulheres. O mesmo acontece com negros, LGBTs e outros grupos comumente tomados como “minorias”. O exemplo mais recente deste fenômeno é Sam Wilson, o herói negro que se tornou o novo Capitão América no mundo dos quadrinhos Marvel. Tanto na recepção interna da obra, pela população estadunidense fictícia que não se reconhece mais no herói, quanto na recepção crítica externa à obra, o Capitão América deixou de ser o símbolo que unificava todo o país para se tornar, contraditoriamente, o representante ao mesmo tempo da minoria negra e de todo o país. Esta inadequação levanta várias hipóteses: será que o Capitão América anterior, homem branco, na verdade não representava apenas uma parte da população enquanto era falsamente tomado como representante de todos? Ou será que o problema está no ideal de nação (ou de sujeito), já não compatível com o século XXI?
Como escapar então desta redução generalizada? Se o caráter universalista das obras já não é mais possível ou, pelo menos, não é mais o exclusivo, como escapar da crítica e da recepção cultural de nichos? Como superar a redução, por exemplo, de uma obra ao seu público-(não-)alvo? Como assistir a um seriado como Jessica Jones sem reduzi-lo às típicas expectativas de um seriado de mulheres? Há afinal um universal comunicável em cada específico? No limite, o que as obras têm a dizer sobre o que eu não sou? A mudança na posição padrão daqueles que eram antes super-representados na posição de protagonistas, e agora aparecem também como coadjuvantes ou mesmo vilões, tem algo a lhes dizer? Ela diverte, emociona, faz pensar, critica? Evidentemente! O que é novidade para eles, sempre foi regra para a maioria das pessoas, os sub-representados, que sempre se relacionou com a alta cultura e a cultura de massas ou se reconhecendo em um protagonista diferente de si “universalizado” ou se identificando na sua representação tipicamente secundarizada ou vilanizada. A possibilidade de se identificar com o outro (a mulher, o negro, x trans, etc) ensina mais do que a identificação sempre consigo mesmo. E é mais profunda. Entender seu papel social – o de companheiro em uma relação – não como o herói de sempre que salva a mocinha, mas também como o vilão que a persegue, pune e tortura é pedagógico – e realista. Esta variação é positiva e assustadora para quem esteve acostumado a se ver sempre representado de forma mais positiva do que a sua posição na sociedade realmente é. A virada representativa, que só tem crescido nas duas últimas décadas, tem em Jessica Jones uma de suas melhores representantes na indústria da cultura.
O enredo de Jessica Jones não surpreende em sua estrutura macro: ainda é um seriado sobre uma super-heroína, felizmente com pouco uso de super efeitos especiais, aprendendo a usar seus poderes para combater um super-vilão muito mau (forçadamente e com pouca personalidade, salvo apenas pela excelente atuação de David Tennant). Nas partes mais internas do roteiro, no entanto, a série surpreende: cada parte previsível tem uma continuação inesperada. A fotografia segue a mesma dualidade: é exagerada, clichê, mas delicada e parte componente da narrativa. Mantém-se a estrutura como série, confortável para o público do Netflix e da Marvel, mas no nível dos episódios aparecem surpresas interessantes. Jessica Jones tem uma superfície de seriado de super-heróis, mas é muito mais um drama sobre a superação – o processo de resistência, libertação e cura, nunca completamente realizado – de relacionamentos abusivos. O foco é a violência psicológica de homens contra mulheres, mas não se reduz a isto. A manutenção dos papéis de dominador e dominado, e a luta, aparece na relação entre casais lésbicos, mãe e filha, filho e pai e até no nível individual, no caso da luta de viciados contra a dependência química. O seriado é pedagógico sem ser panfletário. Ao invés de um marido manipulador, que distorce informações e manipula psicologicamente sua companheira, um super-vilão com o poder de forçar as pessoas a fazerem o que ele quer. Ao invés de um romântico apaixonado, um mimado que não perdoa a mulher por não se interessar por ele (e por acender seu desejo, pecado original clássico na liturgia do machismo). Ao invés da negação social, como no típico “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, uma alegoria: uma delegacia cheia de policiais que testemunham a agressão e segundos depois explodem em gargalhadas se esquecendo do que aconteceu. Ao invés do maníaco, um namorado atencioso, que revela o caráter secreto do primeiro no segundo. As denúncias culturais da crítica feminista, racial e pós-colonial finalmente colhem seus frutos: em nenhum momento as mulheres são salvas por homens, mas o contrário acontece. O seriado mostra o aborto justo de um feto fruto de um estupro. As mulheres não se masculinizam para vencer os homens vilões: se apoiam. A super-força de Jessica não é fálica, impositora, é criativa, irônica, protetora. O seriado tem uma profusão realista, finalmente, de atores negros, latinos e asiáticos. E para os nerds menos tímidos: finalmente boas cenas de sexo entre pessoas com super-poderes! A graça e o interesse que o Homem-Aranha introduziu no mundo dos quadrinhos com seus pequenos problemas de adolescente, sua falta de dinheiro, seu luto interminável pelo Tio Ben, isto tudo em oposição ao invencível Super-Homem, encontra agora uma graça e um interesses semelhantes, mas ainda mais expandidos, em Jessica Jones, a mulher quase normal que luta contra o seu passado – tristemente tão reconhecível, tão identificável para tantas e tantos – que não quer ir embora.
Tomaz Amorim é poeta, faz doutorado em literatura e pensa misturadamente sobre três coisas: arte, amor e justiça social; é também autor do blog 3 parágrafos de crítica.